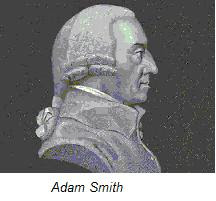Recebido nas bolsas de valores como uma saudável golfada de oxigênio, o compromisso a que chegaram os ministros econômicos da União Europeia (UE) é, ao invés disso, uma verdadeira “catástrofe”, segundo Saskia Sassen.
Para esta estudiosa de origem holandesa, que ensina na Universidade de Columbia e é vista como uma das mais originais intérpretes do processo de globalização, o pacote de “ajuda” acabará alimentando a lógica que causou a crise.
Giulianno Battiston, de Liberazione, entrevistou a autora de Territory, Authority, Rights * [Território, Autoridade, Direitos, sem edição em português] em Bolonha, onde ocorreu a sessão final do Transeuropa Festival, organizado pela associação European Alternatives.
Ela falou sobre a crise atual e os caminhos para superá-la.
P - Qual sua opinião sobre a crise grega e a solução adotada pela União Europeia? Uma resposta necessária ou, ao contrário, um remédio que pode agravar a doença?
R - Trata-se de uma solução financeira para uma crise financeira. Não permitirá sair do cículo vicioso que provocou a crise e, ao contrário, consolida-o.
O pacote adotado apenas prolonga a vida do modelo financeiro. Em cinco anos, nos encontremos na mesma situação. À medida em que se amplia a financerização do sistema econômico – ou em que, como neste caso, se atende suas exigências, as crises tornam-se uma característica sistêmica.
Por isso, penso que o povo grego, que sentiu cheiro de queimado, agiu corretamente, ao se manifestar. A maior parte do dinheiro destinado “à Grécia” não passará por suas mãos, nem provisoriamente.
E não será usado, por exemplo, para criar postos de trabalho. Acabará nos bancos, nas grandes instituições financeiras. O governo grego utilizará os recursos para pedir novos empréstimos.
É uma solução absurda e catastrófica. Revela uma forma extrema de arrogância do poder, além de uma ausência aguda de projetos políticos, por parte dos líderes políticos.
Mais uma vez a Europa, que às vezes se enxerga como possível incubadora de novos paradigmas políticos, parece recorrer a soluções do passado. Decidiu, junto com o FMI, condicionar a ajuda oferecida a países a “ajustes fiscais” extremamente rígidos…
Às vezes, parece que os políticos estão entregues. Que renunciaram ao uso da inteligência para pensar a política e a sociedade. Esta solução é a simples aplicação de um modelo, já adotado nos Estados Unidos de Barack Obama, e que agora pode tornar-se sistêmico.
Também a Europa – que parecia dispor de alicerces mais sólidos, nos confrontos com a lógica financeira, caiu na armadilha do salvamento dos bancos.
Os 27 Estados nacionais da UE decidiram, na verdade, usar instrumentos legais e políticos nacionais para extorquir dos contribuintes recursos para um fundo destinado, principalmente, às grandes instituições financeiras globais.
Num piscar de olhos, tais instituições conseguiram impor à UE, construída a duras penas, peça por peça, durante setenta anos, uma plataforma comum a atingir.
Há muitos anos, quando o neoliberalismo impunha suas regras, eu falava das reestruturações impostas pelo FMI, travestidas de “eficiência”. Agora, percebemos que os “ajustes estruturais”, antes restritos à África, América Latina e países pobres da Ásia, atingem também o Ocidente.
O modelo subentendido neste projeto invadiu também a Europa. Ele destrói as pequenas atividades, empobrece os cidadãos, favorece a desigualdade e produz um “excedente” de população considerada inútil.
Comprometendo, também nos países ocidentais do continente, a capacidade do Estado para promover um desenvolvimento que leve em conta a complexidade social.
Quando escrevermos a história deste período, reconheceremos que se trata de um verdadeiro abuso de poder. Porém, quando se começa a abusar de poder, como demonstram os casos da União Soviética e das ditaduras militares na América Latina, é o começo do fim.
Apesar do “início do fim” e da vulnerabilidade do sistema neoliberal, os movimentos sociais europeus estão paralisados. Alguns parecem em retirada, a esquerda europeia está afônica e não se vêem propostas políticas inovadoras.
Estou convencida de que também a falta de poder, em certas condições, permite “fazer história”. Ela pode tornar-se complexa, quando sentidos políticos antes vistos como estáveis, desestabilizam-se.
Mas como começar? Protestar, dizer ao poder “estamos aqui”, não é mais suficiente. O risco é descair para a dialética hegeliana escravo-senhor, limitando-se a exigir um pouco de poder e liberdade.
A alternativa é “fazer o social”, construir e ressignificar os espaços.
Muitas novidades estão sendo construídas ativamente pelo mundo.
Graças a elas, vai se desenhando uma nova topografia política.
São iniciativas como a economia solidária na América Latina – onde ela já não é uma economia informal, mas um novo uso dos instrumentos econômicos tradicionais, sua reorientação para fins alternativos.
Não se trata de fazer uma revolução socialista, mas de agir, sobretudo onde há estruturas organizativas consolidadas, em planos regional ou local, nas cidades, usando-as para objetivos diversos.
Pode-se fazê-lo descentralizando, distribuindo, reurbanizando, por exemplo. A crise torna as pessoas mais pobres, mas elas, em certos casos, animam-se a desenvolver seus próprios instrumentos de produção.
Pequenos bancos – adaptados necessariamente à dimensão local – podem transformar-se em meios coletivos de produção, mesmo se a propriedade não esteja em sintonia com nossos interesse.
Ou pode-se fazê-lo com a agricultura urbana e regional, com os mercados agrícolas locais, com o trabalho artesanal, com todos os projetos que entram na “economia que tende ao verde”.
Em outros termos, é preciso recuperar a economia parte por parte, re-ancorá-la em nossas necessidades.
Construir, a partir da que há hoje, uma nova, que seja “nossa”, por meio de iniciativas que estão se difundindo e que, mesmo quando parecem incoerentes e sem nexos, desenham uma trajetória precisa.
Não é preciso esperar a emergência de um grande ideal.
Podemos começar modificando as necessidades quotidianas, reorganizando o espaço e a seu significado.
Partir das bases que temos à disposição, sem nos iludirmos com a hipótese de destruir tudo e começar de novo.
É como ocorre um algumas fábricas argentinas ocupadas: espaços totalmente modificados, graças a práticas materiais muito elementares. E, por meio destas práticas, pode-se ressignificar os espaços e dar vida a novas temporalidades, alternativas às do poder.
* Saskia Sassen - Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton: Princeton University Press, May 2006)
Tradução: Outras Palavras
Copyleft - 7/05/210
Para esta estudiosa de origem holandesa, que ensina na Universidade de Columbia e é vista como uma das mais originais intérpretes do processo de globalização, o pacote de “ajuda” acabará alimentando a lógica que causou a crise.
Giulianno Battiston, de Liberazione, entrevistou a autora de Territory, Authority, Rights * [Território, Autoridade, Direitos, sem edição em português] em Bolonha, onde ocorreu a sessão final do Transeuropa Festival, organizado pela associação European Alternatives.
Ela falou sobre a crise atual e os caminhos para superá-la.
P - Qual sua opinião sobre a crise grega e a solução adotada pela União Europeia? Uma resposta necessária ou, ao contrário, um remédio que pode agravar a doença?
R - Trata-se de uma solução financeira para uma crise financeira. Não permitirá sair do cículo vicioso que provocou a crise e, ao contrário, consolida-o.
O pacote adotado apenas prolonga a vida do modelo financeiro. Em cinco anos, nos encontremos na mesma situação. À medida em que se amplia a financerização do sistema econômico – ou em que, como neste caso, se atende suas exigências, as crises tornam-se uma característica sistêmica.
Por isso, penso que o povo grego, que sentiu cheiro de queimado, agiu corretamente, ao se manifestar. A maior parte do dinheiro destinado “à Grécia” não passará por suas mãos, nem provisoriamente.
E não será usado, por exemplo, para criar postos de trabalho. Acabará nos bancos, nas grandes instituições financeiras. O governo grego utilizará os recursos para pedir novos empréstimos.
É uma solução absurda e catastrófica. Revela uma forma extrema de arrogância do poder, além de uma ausência aguda de projetos políticos, por parte dos líderes políticos.
Mais uma vez a Europa, que às vezes se enxerga como possível incubadora de novos paradigmas políticos, parece recorrer a soluções do passado. Decidiu, junto com o FMI, condicionar a ajuda oferecida a países a “ajustes fiscais” extremamente rígidos…
Às vezes, parece que os políticos estão entregues. Que renunciaram ao uso da inteligência para pensar a política e a sociedade. Esta solução é a simples aplicação de um modelo, já adotado nos Estados Unidos de Barack Obama, e que agora pode tornar-se sistêmico.
Também a Europa – que parecia dispor de alicerces mais sólidos, nos confrontos com a lógica financeira, caiu na armadilha do salvamento dos bancos.
Os 27 Estados nacionais da UE decidiram, na verdade, usar instrumentos legais e políticos nacionais para extorquir dos contribuintes recursos para um fundo destinado, principalmente, às grandes instituições financeiras globais.
Num piscar de olhos, tais instituições conseguiram impor à UE, construída a duras penas, peça por peça, durante setenta anos, uma plataforma comum a atingir.
Há muitos anos, quando o neoliberalismo impunha suas regras, eu falava das reestruturações impostas pelo FMI, travestidas de “eficiência”. Agora, percebemos que os “ajustes estruturais”, antes restritos à África, América Latina e países pobres da Ásia, atingem também o Ocidente.
O modelo subentendido neste projeto invadiu também a Europa. Ele destrói as pequenas atividades, empobrece os cidadãos, favorece a desigualdade e produz um “excedente” de população considerada inútil.
Comprometendo, também nos países ocidentais do continente, a capacidade do Estado para promover um desenvolvimento que leve em conta a complexidade social.
Quando escrevermos a história deste período, reconheceremos que se trata de um verdadeiro abuso de poder. Porém, quando se começa a abusar de poder, como demonstram os casos da União Soviética e das ditaduras militares na América Latina, é o começo do fim.
Apesar do “início do fim” e da vulnerabilidade do sistema neoliberal, os movimentos sociais europeus estão paralisados. Alguns parecem em retirada, a esquerda europeia está afônica e não se vêem propostas políticas inovadoras.
Estou convencida de que também a falta de poder, em certas condições, permite “fazer história”. Ela pode tornar-se complexa, quando sentidos políticos antes vistos como estáveis, desestabilizam-se.
Mas como começar? Protestar, dizer ao poder “estamos aqui”, não é mais suficiente. O risco é descair para a dialética hegeliana escravo-senhor, limitando-se a exigir um pouco de poder e liberdade.
A alternativa é “fazer o social”, construir e ressignificar os espaços.
Muitas novidades estão sendo construídas ativamente pelo mundo.
Graças a elas, vai se desenhando uma nova topografia política.
São iniciativas como a economia solidária na América Latina – onde ela já não é uma economia informal, mas um novo uso dos instrumentos econômicos tradicionais, sua reorientação para fins alternativos.
Não se trata de fazer uma revolução socialista, mas de agir, sobretudo onde há estruturas organizativas consolidadas, em planos regional ou local, nas cidades, usando-as para objetivos diversos.
Pode-se fazê-lo descentralizando, distribuindo, reurbanizando, por exemplo. A crise torna as pessoas mais pobres, mas elas, em certos casos, animam-se a desenvolver seus próprios instrumentos de produção.
Pequenos bancos – adaptados necessariamente à dimensão local – podem transformar-se em meios coletivos de produção, mesmo se a propriedade não esteja em sintonia com nossos interesse.
Ou pode-se fazê-lo com a agricultura urbana e regional, com os mercados agrícolas locais, com o trabalho artesanal, com todos os projetos que entram na “economia que tende ao verde”.
Em outros termos, é preciso recuperar a economia parte por parte, re-ancorá-la em nossas necessidades.
Construir, a partir da que há hoje, uma nova, que seja “nossa”, por meio de iniciativas que estão se difundindo e que, mesmo quando parecem incoerentes e sem nexos, desenham uma trajetória precisa.
Não é preciso esperar a emergência de um grande ideal.
Podemos começar modificando as necessidades quotidianas, reorganizando o espaço e a seu significado.
Partir das bases que temos à disposição, sem nos iludirmos com a hipótese de destruir tudo e começar de novo.
É como ocorre um algumas fábricas argentinas ocupadas: espaços totalmente modificados, graças a práticas materiais muito elementares. E, por meio destas práticas, pode-se ressignificar os espaços e dar vida a novas temporalidades, alternativas às do poder.
* Saskia Sassen - Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton: Princeton University Press, May 2006)
Tradução: Outras Palavras
Copyleft - 7/05/210