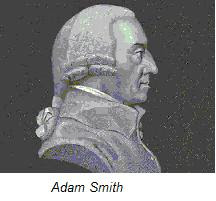Por Pablo González Casanova
Ex-reitor da Universidade Nacional Autônoma do México
No fim do século XX, o imperialismo, que é a formação mais avançada do capitalismo, domina no mundo inteiro, com exceções como Cuba, muito pouco explicadas na teoria das alternativas. Desde os anos 1970 e 1980, as redefinições ou reestruturações do imperialismo deram uma força especial ao processo conhecido como “globalização”.
Sob esse processo se delinearam as novas formas de expansão das grandes potências, em particular dos Estados Unidos. Na década de 1970, os Estados Unidos tomaram a ofensiva no controle mundial ao impor o dólar em vez do ouro, que até então tinha sido o referente de todas as moedas. Os Estados Unidos, juntamennte com a Europa e o Japão, formaram uma Tríade (que o primeiro país encabeçou) e com ela promoveram uma política de endividamento interno e externo dos governos que enfrentavam uma crise fiscal crescente ou uma crise na balança de pagamentos.
Suas principais vítimas foram os governos dos países dependentes, incapazes de alterar a relação de intercâmbio desfavorável, ou o sistema tributário regressivo, e coagidos ao mesmo tempo a satisfazer demandas populares mínimas para manter sua precária estabilidade. A política global de endividamento dos poderes públicos e nacionais renovou o velho método de submissão dos devedores pelos credores, e ocorreu em nível macroeconômico mundial, incluindo muitos governos das cidades metropolitanas.
O processo de endividamento correspondeu ao desenvolvimento de um capitalismo tributário e à submissão financeira renovada dos países dependentes. Com taxas de juros móveis, que podiam aumentar à discrição do credor, a política de globalização impôs um sistema de renovação automática de uma dívida crescente e impagável que fez da dependência um fenômeno permanente de colonialismo financeiro, fiscal e monetário. Desde 1973, após o golpe de Estado de Pinochet, implantou-se no Chile o neoliberalismo.
Desde os anos 1980, o neoliberalismo se converteu na política oficial da Inglaterra, com Thatcher, e dos Estados Unidos, com Ronald Reagan. As forças dominantes enalteceram o neoliberalismo como uma política econômica de base científica e de aplicação universal, reafirmando e renovando a ofensiva anglo-saxã, que desde o século XVII impulsionara a Inglaterra, sob o manto do liberalismo clássico, a aproveitar as vantagens que o fato de ser o país mais industrializado lhe dava no comércio mundial.
A globalização neoliberal iniciada no fim do século XX também teve como objetivos centrais: a privatização dos recursos públicos; a desnacionalização das empresas e patrimônios dos Estados e povos; o enfraquecimento e a ruptura dos compromissos do Estado social; a “desregulagem” ou supressão dos direitos trabalhistas e da previdência social dos trabalhadores; o desamparo e a desproteção dos camponeses pobres em benefício das grandes companhias agrícolas, particularmente as dos Estados Unidos; a mercantilização de serviços antes públicos (como a educação, a saúde, a alimentação, etc.); o depauperamento crescente dos setores médios; o abandono das políticas de estímulo aos mercados internos; a instrumentação deliberada de políticas de “desenvolvimento do subdesenvolvimento” com o fim de “tirar do mercado” globalizado os competidores das grandes companhias.
O neoliberalismo globalizador exportou a crise para as periferias do mundo ao mesmo tempo em que se apropriou dos mercados e meios de produção e serviços que tinham sido criados no pós-guerra, substituindo os que não fossem rentáveis e estabelecendo um neocolonialismo cada vez mais acentuado e repressivo, em que compartilhou os lucros com as oligarquias locais, civis e militares, e negociou com elas privatizações e desnacionalizações para associá-las ao processo.
A negociação, como concessão, cooptação e corrupção, adquiriu características macroeconômicas e esteve constantemente vinculada a novos fenômenos de paternalismo, de humanitarismo caritativo, de cooptação e corrupção de líderes e clientelas, fenômenos que abarcaram até mesmo as populações mais pobres e castigadas, contra as quais se preparou um novo tipo de guerra chamada de baixa intensidade, com o emprego de contingentes militares e paramilitares, e com as mais variadas formas de terrorismo de Estado por conta das “forças especiais”, encarregadas de “operações encobertas” realizadas por agências governamentais, ou por agentes subsidiados e contratados pelas mesmas.
Os negócios da droga aportaram contribuições milionárias na montagem de um teatro de confusões e à perda de sentido das lutas alternativas. Também serviram para consegur a criminalização, real ou fingida, de líderes e movimentos populares, sistêmicos e anti-sistêmicos. Nos anos 1990, a guerra econômica entre as grandes potências substituiu o projeto de governabilidade do mundo pela Trilateral.
Os Estados Unidos subjugaram em poucos anos o Japão e os Tigres Asiáticos. O grande capital impôs uma política de apoio fiscal, político e militar crescente aos contribuintes mais ricos, muitos deles possuidores dos bancos e das megaempresas, amiúde também integrantes dos altos cargos públicos e das velhas e novas elites dominantes. Os privilégios para o grande capital legalizaram formalmente a apropriação de recursos públicos e privados no centro e na periferia do mundo capitalista, incluindo o direito a especulações gigantescas como a que esteve a ponto de falir o Banco da Inglaterra.
Passados pouquíssimos anos do início do processo, o complexo militar-empresarial dos Estados Unidos, expressão máxima do capitalismo organizado dominante, confirmou que suas mediações, instituições e recursos de dominação ideológica, política e econômica tinham chegado a um ponto de crise ameaçadora ao seu domínio e interesses. Isso o levou a endurecer sua política e empreender novas ações que lhe permitissem se manter na ofensiva e ampliar sua situação de privilégio.
A crise das mediações do capitalismo organizado se manifestou: em um crescente desprestigio de seu projeto de democracia de mercado; nos graves escândalos de corrupção de que foram atores os principais gerentes e proprietários das megaempresas – supostamente mais honrados do que os funcionários populistas e socialdemocratas dos governos dos Estados “minimizados”; no insuportável mal-estar de uma cidadania sem opções, aprisionada entre os mesmos programas e políticas de democratas e republicanos, e vítima da insegurança social e do desemprego em ascensão; da deterioração e da insuficiência das escolas públicas; da falta de serviços médicos e de remédios; da criminalidade generalizada em zonas urbanas e rurais.
As eleições fraudulentas e elitistas em que Bush perdeu a presidência dos Estados Unidos por 500.000 votos e pouco depois a ganhou pela decisão de uma minoria de quatro juizes a favor e três contra, foram o ponto de partida de um processo de lógica totalitária em que as mentiras não são ditas para que se acredite nelas mas, sim, para que sejam obedecidas. E como à crise de instituições e de mediações se somou o perigo de uma recessão que não cedia, os Estados Unidos levaram a Europa à guerra econômica com a qual já tinham controlado o Japão.
Ao mesmo tempo, aceleraram uma ofensiva geopolítica mundial que já tinham iniciado anos antes. Com a invasão do Iraque culminaram suas intervenções na Europa Central (Kosovo), na Ásia Central (Afeganistão) e no Oriente Médio, esta última por conta de Israel, um elemento da estratégia militar do “Ocidente” cada vez mais instrumentalizado pelos Estados Unidos.
Dez anos de bombardeios contra o Iraque, apoiados pelas próprias Nações Unidas, após debilitar e empobrecer terrivelmente este país, facilitaram a ocupação de seu território e, sobretudo, de suas imensas riquezas petrolíferas. Os Estados Unidos mostraram cada vez mais estar na posição de líder da globalização neoliberal e inclusive fizeram gestos simbólicos e prepotentes que confirmaram seu caráter de “Soberano” que pode estar acima das Nações Unidas para declarar a guerra, da Suprema Corte da Justiça para violar os direitos humanos, dos acordos de Kioto para não assinar um compromisso que os obrigasse a tomar as medidas necessárias para a preservação da Terra.
A nova política globalizadora diante da crise interna e externa consistiu em dar prioridade ao neoliberalismo de guerra e à conquista de territórios, empresas e riquezas mediante o uso da força. No campo ideológico os Estados Unidos complementaram sua ideologia de luta pela democracia e pela liberdade, gravemente desprestigiada, pela ideologia de uma guerra preventiva contra o terrorismo.
Adjudicaram-se o direito de definir o que seria terrorismo e de incluir na definição todos os opositores de que precisassem se desfazer, bem como de excluir dela todos os delinqüentes de que tivesse necessidade e seus próprios corpos especiais militares e paramilitares “com direito a matar” e “torturar”. A guerra não esteve incluída nos atos de terrorismo, nem o bombardeio e extermínio das populações civis, de povos, cidades e países inteiros. Pelo contrário, os Estados Unidos afirmaram empreender uma guerra do Bem contra o Mal, dispondo-se a travá-la em todas as partes do mundo e por um tempo indefinido.
Nem todos os falsos mitos da Idade Moderna foram destruídos. Muitos, como a democracia com sangue, foram impostos pela força. O governo dos Estados Unidos fingiram que tinham ido ao Iraque para impor a democracia e construir um país independente mediante a conquista. Seus enganos premeditados mostraram tanta violência quanto a que exerceram sobre a população do Iraque com o argumento de que seu verdadeiro objetivo era aprisionar Sadam Hussein, enquanto, para tanto, destruíam o país, cidade por cidade e casa por casa, e se apoderavam de seus ricos poços de petróleo.
A consternação mundial diante dessa política desumana se manifestou no desfile de milhões de pessoas nas grandes capitais do mundo. Também apareceu no desconcerto e na sensação de impotência que viveram os movimentos sociais partidários da paz e em luta por “outro mundo possível”. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos se propuseram a demonstrar sua decisão de atuar sozinhos quando fosse necessário, e de associar aos seus projetos de intervenção mundial os governos dos países
altamente desenvolvidos e das potências intermediárias, assim como as demais burguesias e oligarquias do mundo que se submetessem a aceitar e apoiar “os seus valores e os seus interesses”.
Mediante concessões e repressões, trataram de forjar um complexo imperialista. Pelo sentido comum entenderam que a repartição do butim e das zonas de influência deveria conceder prioridade sempre aos Estados Unidos, com pequenos ajustes prévia ou posteriormente negociados. A política de repressões e de negociações abarcou todos os atores e todas as ações. Orientada sempre pela política de privatização, incluiu a privatização das empresas de guerra e dos exércitos, e a privatização em profundidade e em extensão, incluindo a terra e o subsolo, as fontes energéticas, a água e os mares, o ar e o espaço aéreo.
Nesta etapa da globalização neoliberal, os Estados Unidos e seus complexos e redes de associados e subordinados continuaram aproveitando a crise atravessada pelos movimentos de libertação e aqueles favoráveis à democracia e ao socialismo. Os movimentos alternativos, sistêmicos e não sistêmicos, continuavam padecendo da desestruturação e alienação de ideologias e estruturas e dos fluxos de informação e ação.
Embora desde os anos 1990 começasse o movimento universal por uma nova alternativa, que procurava combinar e enriquecer as experiências das lutas anteriores, a clareza de idéias e a eficiência da organização de povos, trabalhadores e cidadãos mostraramse muito ineficientes para enfrentar a terrível ofensiva. Muitos deles tinham pensado que a crise crescente do capitalismo em si mesma os favorecia. Não tinham imaginado a imensa capacidade de reação e de violência de que era capaz o capitalismo. Ou não quiseram vê-la.
A “guerra preventiva de ação generalizada” não constituiu somente uma mudança profunda em comparação com a “estratégia da contenção” que tinha predominado durante a guerra fria: foi também a forma mais adequada – a curto prazo – para que o grande capital e as potências imperialistas impedissem o desenvolvimento da consciência e a organização das forças alternativas emergentes. Nessas circunstâncias, umas contradições começaram a atropelar as outras sem que se destacassem as lutas pela libertação, pela democracia e pelo socialismo como aquelas capazes de dar um novo sentido à História.
untamente com as grandes manifestações de protesto contra a guerra, apareceram movimentos locais e globais de uma riqueza teórica e organizativa extraordinária; mas suas lutas tenderam a limitar-se a ações de protesto, e quando muito a ações de pressão passageira, ou de lenta construção de alternativas. Em sua maioria, continuaram a mostrar-se incapazes de diminuir o ímpeto da política neoliberal que, na paz e na guerra, está levando o mundo a uma catástrofe generalizada.
A tais movimentos, ao mesmo tempo alentadores e incipientes, somaram-se outros, de um pensamento religioso e fundamentalista, que tendem a reproduzir a situação anterior de opressão e alienação dos povos oprimidos e fanatizados. Os líderes da resistência raramente se mostraram líderes de um pensamento crítico e radical; ou, freqüentemente, o representaram em suas formulações mais autoritárias e confusas, como no caso dos maoístas do Nepal, que voltaram a agir como líderes de movimentos armados incapazes de construir um mundo alternativo.
Em muitos outros casos, os movimentos guerrilheiros foram penetrados pela contra-insurgência que, com o narcotráfico e os agentes especiais, os desabilitaram a empreender a necessária revolução ético-política. Numerosas guerrilhas se transformaram em grupos de foragidos sem outra lei nem ideologia além da pilhagem e da dominação repressiva das próprias populações em que se inseriam, às quais por vezes chegavam a impor políticas clientelistas e de privilégios excludentes, étnicos ou lingüísticos.
Pareciam estar feitas à imagem e semelhança dos “terroristas bestializados” pelo terrorismo de Estado. Por todas as partes, e nas mais diversas culturas, desenvolveram-se instintos autodestrutivos, individuais e coletivos, muitos deles vinculados a uma violência do desespero. No campo das lutas políticas e sociais, dos partidos e das organizações da sociedade civil, os modelos de corrupção e repressão, de conformismo e de alienação anularam diversos movimentos que, de início, indicavam uma saída aos povos.
Seus líderes foram cooptados ou corrompidos, ou simplesmente se adaptaram a um mundo controlado em que predominam as filosofias individualistas segundo as quais cada um “defende o seu”. É verdade que, ao mesmo tempo, foram surgindo grandes movimentos como os de Chiapas no México, Seattle nos Estados Unidos, Porto Alegre no Brasil, o outro Davos na Europa, Mombay na Índia e muitos outros, que tentam unir o local e o universal e criam os novos projetos de um mundo livre, eqüitativo e independente que se aproxima da verdadeira democracia, do verdadeiro socialismo e da verdadeira libertação.
Todas as lutas mencionadas, porém,ocupam um espaço pequeno demais no tocante às necessidades da mudança sistêmica e da sobrevivência humana, ameaçada por uma guerra contra os pobres que pode terminar em guerra bacteriológica e nuclear. Apareceram ao mesmo tempo, por conseguinte, as contradições entre o imperialismo e os países dependentes, neocoloniais e recolonizados; as contradições entre os trabalhadores e o capital, muitas delas mediatizadas e estratificadas; as contradições entre as etnias e as nações-Estado; as contradições entre as potências atômicas e nucleares e entre os próprios integrantes da comunidade imperialista, zelosos de suas zonas de influência e temerosos de perder poder e privilégios.
Todas estas e muitas outras contradições se esboçaram em um imperialismo dominante mais ou menos coletivo, que tende a identificar-se com o capitalismo como sistema global. O desfecho das contradições não pareceu assegurar-se no sentido de que um sistema mais justo e livre do que o sistema capitalista mundial pudesse ser atingido no tempo de uma geração de lutadores políticos, sociais ou revolucionários.
Ainda mais, a ameaça à sobrevivência da humanidade fez com que os governantes obrigatoriamente pensassem em uma alternativa ainda mais sinistra, capaz de manter seus privilégios e seu poder: a destruição de uma parte da humanidade para a sobrevivência do resto dela. Este raciocínio levou à imposição paulatina e constante de um regime de “nazismo-cibernético”, com a eliminação de povos inteiros pelo mundo afora, à maneira de Pol-Pot, ou do equivalente aos sete milhões de judeus vitimados pelo nazismo anterior, que agora desponta no campo de concentração e eliminação em que o imperialismo e seus associados converteram a Palestina.
A imoralidade e a criminalidade doentias dos novos dirigentes do sistema, como as dos antigos nazis, combinadas com o conhecimento e o uso que fazem das tecnociências e dos sistemas auto-regulados, adaptativos e criativos, anunciam obscuramente um futuro negro para a humanidade, caso os povos das periferias, e inclusive os das metrópoles, não consigam impor a transição para um sistema de produção e democracia pós-capitalista que assegure a vida humana e a sobrevivência da espécie.
Todas as redefinições do imperialismo de hoje parecem dirigir-se à construção de um império liderado pelos Estados Unidos, seus associados e subordinados, em que é mais provável uma guerra entre as potências nucleares do que uma revolução social, ou do que uma mudança de rota em direção à socialização, democratização e independência real das nações, cidadãos e povos. Deste fato derivam, em parte, as afirmações irresponsáveis de Michael Hart e Antonio Negri no sentido de que seja necessário substituir o conceito de imperialismo pelo conceito de império e o de luta de classes pelo de uma luta da “multidão” contra o “império”.
A superficialidade desta interpretação se deve em grande medida a uma conjuntura histórica em que é evidente que a construção do império mundial pelos Estados Unidos ocupou o primeiro plano da cena. Também se deve ao fato evidente de que a luta de classes original e atual tem sido fortemente mediatizada por outras lutas políticas, econômicas, ideológicas e sociais, e de que as organizações que lutaram contra o sistema de dominação e acumulação característico do Capitalismo foram mediatizadas e derrotadas, primeiramente no século XIX, depois no século XX. No início do século XXI ainda se vive a desorganização das forças alternativas e de suas próprias organizações ou meios para alcançar o socialismo, a democracia, a libertação.
-
O caráter relativamente desestruturado e multitudinário que as forças alternativas ainda apresentam é evidente. Mas, nem do projeto norte-americano de um Império Global, nem da crise mundial das alternativas se pode derivar que, em vez de pensar e agir contra o imperialismo, se deva pensar e agir contra o império, e que, em vez de pensar nas novas organizações da resistência e da organização do poder alternativo, se deva lutar nos termos vagos de um pensamento libertário ou neoanarquista conservador que pretenda enfrentar a multidão desorganizada ao capitalismo mais organizado de toda a História.
A origem da formulação mistificadora de Hart e Negri provém de uma lógica das disjuntivas que geralmente tem sido reacionária. Consiste em pensar que as novas características do imperialismo acabem com o imperialismo, ou que os novos aspectos da luta de classes se expressem em uma luta histórica empreendida pelas multidões – este outro termo que o pensamento conservador e elitista sempre aplicou aos povos que teme agressivamente.
A verdade é que hoje, mais do que nunca, o conceito do imperialismo como uma etapa do capitalismo e da História da humanidade continua sendo um conceito fundamental. Ao articular a História dos impérios com a História das empresas, o conceito de “imperialismo” pôs a descoberto o poder crescente das empresas monopolistas e do capital financeiro. Também reformulou a luta antiimperialista combinando a luta das nações oprimidas com a luta das classes exploradas.
Se hoje estamos assistindo à construção de um império mundial pelo complexo militar-empresarial dos Estados Unidos (e a palavra império lhes parece grata desde a rainha Vitória), tal projeto de Império corresponde às mais avançadas políticas imperialistas e capitalistas: combina a força crescente das megaempresas e das potências, em que se apoiam e de que se servem, com as novas formas de dominação e exploração dos povos e dos trabalhadores. De fato, o projeto mencionado articula cada vez mais o imperialismo ao capitalismo, até tornar cada um deles incompreensível sem o outro.
Ainda mais, permite explorar as contradições na construção do império mundial norte-americano em pugna inevitável com outros impérios dada sua crescente apropriação e dominação de territórios, recursos e populações, bem como o fato de que apareça como o beneficiário principal da nova acumulação original e ampliada de capitais, formulando problemas de insegurança às grandes potências e às potências intermediárias.
A luta contra o imperialismo e o capitalismo, encarada como uma luta pela democracia, pela libertação e pelo socialismo, corresponde, por sua parte, a um fenômeno alternativo de sistemas emergentes, e, tanto por suas tendências naturais como pelas que serão encaminhadas para atingir tais objetivos, pode ter um crescimento exponencial que inclua a própria população dos Estados Unidos, sem mencionar a do resto do mundo.
Nesse futuro o exemplo de Cuba, longe de ser “excepcional”, tem características universais que se tornarão cada vez mais evidentes conforme se descubra nela a necessidade ético-política que todo movimento pela libertação, pela democracia e pelo socialismo deve priorizar na organização de seu pensamento e de suas ações.
Pesquisa, copy e edição – Flavio Deckes
Ex-reitor da Universidade Nacional Autônoma do México
No fim do século XX, o imperialismo, que é a formação mais avançada do capitalismo, domina no mundo inteiro, com exceções como Cuba, muito pouco explicadas na teoria das alternativas. Desde os anos 1970 e 1980, as redefinições ou reestruturações do imperialismo deram uma força especial ao processo conhecido como “globalização”.
Sob esse processo se delinearam as novas formas de expansão das grandes potências, em particular dos Estados Unidos. Na década de 1970, os Estados Unidos tomaram a ofensiva no controle mundial ao impor o dólar em vez do ouro, que até então tinha sido o referente de todas as moedas. Os Estados Unidos, juntamennte com a Europa e o Japão, formaram uma Tríade (que o primeiro país encabeçou) e com ela promoveram uma política de endividamento interno e externo dos governos que enfrentavam uma crise fiscal crescente ou uma crise na balança de pagamentos.
Suas principais vítimas foram os governos dos países dependentes, incapazes de alterar a relação de intercâmbio desfavorável, ou o sistema tributário regressivo, e coagidos ao mesmo tempo a satisfazer demandas populares mínimas para manter sua precária estabilidade. A política global de endividamento dos poderes públicos e nacionais renovou o velho método de submissão dos devedores pelos credores, e ocorreu em nível macroeconômico mundial, incluindo muitos governos das cidades metropolitanas.
O processo de endividamento correspondeu ao desenvolvimento de um capitalismo tributário e à submissão financeira renovada dos países dependentes. Com taxas de juros móveis, que podiam aumentar à discrição do credor, a política de globalização impôs um sistema de renovação automática de uma dívida crescente e impagável que fez da dependência um fenômeno permanente de colonialismo financeiro, fiscal e monetário. Desde 1973, após o golpe de Estado de Pinochet, implantou-se no Chile o neoliberalismo.
Desde os anos 1980, o neoliberalismo se converteu na política oficial da Inglaterra, com Thatcher, e dos Estados Unidos, com Ronald Reagan. As forças dominantes enalteceram o neoliberalismo como uma política econômica de base científica e de aplicação universal, reafirmando e renovando a ofensiva anglo-saxã, que desde o século XVII impulsionara a Inglaterra, sob o manto do liberalismo clássico, a aproveitar as vantagens que o fato de ser o país mais industrializado lhe dava no comércio mundial.
A globalização neoliberal iniciada no fim do século XX também teve como objetivos centrais: a privatização dos recursos públicos; a desnacionalização das empresas e patrimônios dos Estados e povos; o enfraquecimento e a ruptura dos compromissos do Estado social; a “desregulagem” ou supressão dos direitos trabalhistas e da previdência social dos trabalhadores; o desamparo e a desproteção dos camponeses pobres em benefício das grandes companhias agrícolas, particularmente as dos Estados Unidos; a mercantilização de serviços antes públicos (como a educação, a saúde, a alimentação, etc.); o depauperamento crescente dos setores médios; o abandono das políticas de estímulo aos mercados internos; a instrumentação deliberada de políticas de “desenvolvimento do subdesenvolvimento” com o fim de “tirar do mercado” globalizado os competidores das grandes companhias.
O neoliberalismo globalizador exportou a crise para as periferias do mundo ao mesmo tempo em que se apropriou dos mercados e meios de produção e serviços que tinham sido criados no pós-guerra, substituindo os que não fossem rentáveis e estabelecendo um neocolonialismo cada vez mais acentuado e repressivo, em que compartilhou os lucros com as oligarquias locais, civis e militares, e negociou com elas privatizações e desnacionalizações para associá-las ao processo.
A negociação, como concessão, cooptação e corrupção, adquiriu características macroeconômicas e esteve constantemente vinculada a novos fenômenos de paternalismo, de humanitarismo caritativo, de cooptação e corrupção de líderes e clientelas, fenômenos que abarcaram até mesmo as populações mais pobres e castigadas, contra as quais se preparou um novo tipo de guerra chamada de baixa intensidade, com o emprego de contingentes militares e paramilitares, e com as mais variadas formas de terrorismo de Estado por conta das “forças especiais”, encarregadas de “operações encobertas” realizadas por agências governamentais, ou por agentes subsidiados e contratados pelas mesmas.
Os negócios da droga aportaram contribuições milionárias na montagem de um teatro de confusões e à perda de sentido das lutas alternativas. Também serviram para consegur a criminalização, real ou fingida, de líderes e movimentos populares, sistêmicos e anti-sistêmicos. Nos anos 1990, a guerra econômica entre as grandes potências substituiu o projeto de governabilidade do mundo pela Trilateral.
Os Estados Unidos subjugaram em poucos anos o Japão e os Tigres Asiáticos. O grande capital impôs uma política de apoio fiscal, político e militar crescente aos contribuintes mais ricos, muitos deles possuidores dos bancos e das megaempresas, amiúde também integrantes dos altos cargos públicos e das velhas e novas elites dominantes. Os privilégios para o grande capital legalizaram formalmente a apropriação de recursos públicos e privados no centro e na periferia do mundo capitalista, incluindo o direito a especulações gigantescas como a que esteve a ponto de falir o Banco da Inglaterra.
Passados pouquíssimos anos do início do processo, o complexo militar-empresarial dos Estados Unidos, expressão máxima do capitalismo organizado dominante, confirmou que suas mediações, instituições e recursos de dominação ideológica, política e econômica tinham chegado a um ponto de crise ameaçadora ao seu domínio e interesses. Isso o levou a endurecer sua política e empreender novas ações que lhe permitissem se manter na ofensiva e ampliar sua situação de privilégio.
A crise das mediações do capitalismo organizado se manifestou: em um crescente desprestigio de seu projeto de democracia de mercado; nos graves escândalos de corrupção de que foram atores os principais gerentes e proprietários das megaempresas – supostamente mais honrados do que os funcionários populistas e socialdemocratas dos governos dos Estados “minimizados”; no insuportável mal-estar de uma cidadania sem opções, aprisionada entre os mesmos programas e políticas de democratas e republicanos, e vítima da insegurança social e do desemprego em ascensão; da deterioração e da insuficiência das escolas públicas; da falta de serviços médicos e de remédios; da criminalidade generalizada em zonas urbanas e rurais.
As eleições fraudulentas e elitistas em que Bush perdeu a presidência dos Estados Unidos por 500.000 votos e pouco depois a ganhou pela decisão de uma minoria de quatro juizes a favor e três contra, foram o ponto de partida de um processo de lógica totalitária em que as mentiras não são ditas para que se acredite nelas mas, sim, para que sejam obedecidas. E como à crise de instituições e de mediações se somou o perigo de uma recessão que não cedia, os Estados Unidos levaram a Europa à guerra econômica com a qual já tinham controlado o Japão.
Ao mesmo tempo, aceleraram uma ofensiva geopolítica mundial que já tinham iniciado anos antes. Com a invasão do Iraque culminaram suas intervenções na Europa Central (Kosovo), na Ásia Central (Afeganistão) e no Oriente Médio, esta última por conta de Israel, um elemento da estratégia militar do “Ocidente” cada vez mais instrumentalizado pelos Estados Unidos.
Dez anos de bombardeios contra o Iraque, apoiados pelas próprias Nações Unidas, após debilitar e empobrecer terrivelmente este país, facilitaram a ocupação de seu território e, sobretudo, de suas imensas riquezas petrolíferas. Os Estados Unidos mostraram cada vez mais estar na posição de líder da globalização neoliberal e inclusive fizeram gestos simbólicos e prepotentes que confirmaram seu caráter de “Soberano” que pode estar acima das Nações Unidas para declarar a guerra, da Suprema Corte da Justiça para violar os direitos humanos, dos acordos de Kioto para não assinar um compromisso que os obrigasse a tomar as medidas necessárias para a preservação da Terra.
A nova política globalizadora diante da crise interna e externa consistiu em dar prioridade ao neoliberalismo de guerra e à conquista de territórios, empresas e riquezas mediante o uso da força. No campo ideológico os Estados Unidos complementaram sua ideologia de luta pela democracia e pela liberdade, gravemente desprestigiada, pela ideologia de uma guerra preventiva contra o terrorismo.
Adjudicaram-se o direito de definir o que seria terrorismo e de incluir na definição todos os opositores de que precisassem se desfazer, bem como de excluir dela todos os delinqüentes de que tivesse necessidade e seus próprios corpos especiais militares e paramilitares “com direito a matar” e “torturar”. A guerra não esteve incluída nos atos de terrorismo, nem o bombardeio e extermínio das populações civis, de povos, cidades e países inteiros. Pelo contrário, os Estados Unidos afirmaram empreender uma guerra do Bem contra o Mal, dispondo-se a travá-la em todas as partes do mundo e por um tempo indefinido.
Nem todos os falsos mitos da Idade Moderna foram destruídos. Muitos, como a democracia com sangue, foram impostos pela força. O governo dos Estados Unidos fingiram que tinham ido ao Iraque para impor a democracia e construir um país independente mediante a conquista. Seus enganos premeditados mostraram tanta violência quanto a que exerceram sobre a população do Iraque com o argumento de que seu verdadeiro objetivo era aprisionar Sadam Hussein, enquanto, para tanto, destruíam o país, cidade por cidade e casa por casa, e se apoderavam de seus ricos poços de petróleo.
A consternação mundial diante dessa política desumana se manifestou no desfile de milhões de pessoas nas grandes capitais do mundo. Também apareceu no desconcerto e na sensação de impotência que viveram os movimentos sociais partidários da paz e em luta por “outro mundo possível”. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos se propuseram a demonstrar sua decisão de atuar sozinhos quando fosse necessário, e de associar aos seus projetos de intervenção mundial os governos dos países
altamente desenvolvidos e das potências intermediárias, assim como as demais burguesias e oligarquias do mundo que se submetessem a aceitar e apoiar “os seus valores e os seus interesses”.
Mediante concessões e repressões, trataram de forjar um complexo imperialista. Pelo sentido comum entenderam que a repartição do butim e das zonas de influência deveria conceder prioridade sempre aos Estados Unidos, com pequenos ajustes prévia ou posteriormente negociados. A política de repressões e de negociações abarcou todos os atores e todas as ações. Orientada sempre pela política de privatização, incluiu a privatização das empresas de guerra e dos exércitos, e a privatização em profundidade e em extensão, incluindo a terra e o subsolo, as fontes energéticas, a água e os mares, o ar e o espaço aéreo.
Nesta etapa da globalização neoliberal, os Estados Unidos e seus complexos e redes de associados e subordinados continuaram aproveitando a crise atravessada pelos movimentos de libertação e aqueles favoráveis à democracia e ao socialismo. Os movimentos alternativos, sistêmicos e não sistêmicos, continuavam padecendo da desestruturação e alienação de ideologias e estruturas e dos fluxos de informação e ação.
Embora desde os anos 1990 começasse o movimento universal por uma nova alternativa, que procurava combinar e enriquecer as experiências das lutas anteriores, a clareza de idéias e a eficiência da organização de povos, trabalhadores e cidadãos mostraramse muito ineficientes para enfrentar a terrível ofensiva. Muitos deles tinham pensado que a crise crescente do capitalismo em si mesma os favorecia. Não tinham imaginado a imensa capacidade de reação e de violência de que era capaz o capitalismo. Ou não quiseram vê-la.
A “guerra preventiva de ação generalizada” não constituiu somente uma mudança profunda em comparação com a “estratégia da contenção” que tinha predominado durante a guerra fria: foi também a forma mais adequada – a curto prazo – para que o grande capital e as potências imperialistas impedissem o desenvolvimento da consciência e a organização das forças alternativas emergentes. Nessas circunstâncias, umas contradições começaram a atropelar as outras sem que se destacassem as lutas pela libertação, pela democracia e pelo socialismo como aquelas capazes de dar um novo sentido à História.
untamente com as grandes manifestações de protesto contra a guerra, apareceram movimentos locais e globais de uma riqueza teórica e organizativa extraordinária; mas suas lutas tenderam a limitar-se a ações de protesto, e quando muito a ações de pressão passageira, ou de lenta construção de alternativas. Em sua maioria, continuaram a mostrar-se incapazes de diminuir o ímpeto da política neoliberal que, na paz e na guerra, está levando o mundo a uma catástrofe generalizada.
A tais movimentos, ao mesmo tempo alentadores e incipientes, somaram-se outros, de um pensamento religioso e fundamentalista, que tendem a reproduzir a situação anterior de opressão e alienação dos povos oprimidos e fanatizados. Os líderes da resistência raramente se mostraram líderes de um pensamento crítico e radical; ou, freqüentemente, o representaram em suas formulações mais autoritárias e confusas, como no caso dos maoístas do Nepal, que voltaram a agir como líderes de movimentos armados incapazes de construir um mundo alternativo.
Em muitos outros casos, os movimentos guerrilheiros foram penetrados pela contra-insurgência que, com o narcotráfico e os agentes especiais, os desabilitaram a empreender a necessária revolução ético-política. Numerosas guerrilhas se transformaram em grupos de foragidos sem outra lei nem ideologia além da pilhagem e da dominação repressiva das próprias populações em que se inseriam, às quais por vezes chegavam a impor políticas clientelistas e de privilégios excludentes, étnicos ou lingüísticos.
Pareciam estar feitas à imagem e semelhança dos “terroristas bestializados” pelo terrorismo de Estado. Por todas as partes, e nas mais diversas culturas, desenvolveram-se instintos autodestrutivos, individuais e coletivos, muitos deles vinculados a uma violência do desespero. No campo das lutas políticas e sociais, dos partidos e das organizações da sociedade civil, os modelos de corrupção e repressão, de conformismo e de alienação anularam diversos movimentos que, de início, indicavam uma saída aos povos.
Seus líderes foram cooptados ou corrompidos, ou simplesmente se adaptaram a um mundo controlado em que predominam as filosofias individualistas segundo as quais cada um “defende o seu”. É verdade que, ao mesmo tempo, foram surgindo grandes movimentos como os de Chiapas no México, Seattle nos Estados Unidos, Porto Alegre no Brasil, o outro Davos na Europa, Mombay na Índia e muitos outros, que tentam unir o local e o universal e criam os novos projetos de um mundo livre, eqüitativo e independente que se aproxima da verdadeira democracia, do verdadeiro socialismo e da verdadeira libertação.
Todas as lutas mencionadas, porém,ocupam um espaço pequeno demais no tocante às necessidades da mudança sistêmica e da sobrevivência humana, ameaçada por uma guerra contra os pobres que pode terminar em guerra bacteriológica e nuclear. Apareceram ao mesmo tempo, por conseguinte, as contradições entre o imperialismo e os países dependentes, neocoloniais e recolonizados; as contradições entre os trabalhadores e o capital, muitas delas mediatizadas e estratificadas; as contradições entre as etnias e as nações-Estado; as contradições entre as potências atômicas e nucleares e entre os próprios integrantes da comunidade imperialista, zelosos de suas zonas de influência e temerosos de perder poder e privilégios.
Todas estas e muitas outras contradições se esboçaram em um imperialismo dominante mais ou menos coletivo, que tende a identificar-se com o capitalismo como sistema global. O desfecho das contradições não pareceu assegurar-se no sentido de que um sistema mais justo e livre do que o sistema capitalista mundial pudesse ser atingido no tempo de uma geração de lutadores políticos, sociais ou revolucionários.
Ainda mais, a ameaça à sobrevivência da humanidade fez com que os governantes obrigatoriamente pensassem em uma alternativa ainda mais sinistra, capaz de manter seus privilégios e seu poder: a destruição de uma parte da humanidade para a sobrevivência do resto dela. Este raciocínio levou à imposição paulatina e constante de um regime de “nazismo-cibernético”, com a eliminação de povos inteiros pelo mundo afora, à maneira de Pol-Pot, ou do equivalente aos sete milhões de judeus vitimados pelo nazismo anterior, que agora desponta no campo de concentração e eliminação em que o imperialismo e seus associados converteram a Palestina.
A imoralidade e a criminalidade doentias dos novos dirigentes do sistema, como as dos antigos nazis, combinadas com o conhecimento e o uso que fazem das tecnociências e dos sistemas auto-regulados, adaptativos e criativos, anunciam obscuramente um futuro negro para a humanidade, caso os povos das periferias, e inclusive os das metrópoles, não consigam impor a transição para um sistema de produção e democracia pós-capitalista que assegure a vida humana e a sobrevivência da espécie.
Todas as redefinições do imperialismo de hoje parecem dirigir-se à construção de um império liderado pelos Estados Unidos, seus associados e subordinados, em que é mais provável uma guerra entre as potências nucleares do que uma revolução social, ou do que uma mudança de rota em direção à socialização, democratização e independência real das nações, cidadãos e povos. Deste fato derivam, em parte, as afirmações irresponsáveis de Michael Hart e Antonio Negri no sentido de que seja necessário substituir o conceito de imperialismo pelo conceito de império e o de luta de classes pelo de uma luta da “multidão” contra o “império”.
A superficialidade desta interpretação se deve em grande medida a uma conjuntura histórica em que é evidente que a construção do império mundial pelos Estados Unidos ocupou o primeiro plano da cena. Também se deve ao fato evidente de que a luta de classes original e atual tem sido fortemente mediatizada por outras lutas políticas, econômicas, ideológicas e sociais, e de que as organizações que lutaram contra o sistema de dominação e acumulação característico do Capitalismo foram mediatizadas e derrotadas, primeiramente no século XIX, depois no século XX. No início do século XXI ainda se vive a desorganização das forças alternativas e de suas próprias organizações ou meios para alcançar o socialismo, a democracia, a libertação.
-
O caráter relativamente desestruturado e multitudinário que as forças alternativas ainda apresentam é evidente. Mas, nem do projeto norte-americano de um Império Global, nem da crise mundial das alternativas se pode derivar que, em vez de pensar e agir contra o imperialismo, se deva pensar e agir contra o império, e que, em vez de pensar nas novas organizações da resistência e da organização do poder alternativo, se deva lutar nos termos vagos de um pensamento libertário ou neoanarquista conservador que pretenda enfrentar a multidão desorganizada ao capitalismo mais organizado de toda a História.
A origem da formulação mistificadora de Hart e Negri provém de uma lógica das disjuntivas que geralmente tem sido reacionária. Consiste em pensar que as novas características do imperialismo acabem com o imperialismo, ou que os novos aspectos da luta de classes se expressem em uma luta histórica empreendida pelas multidões – este outro termo que o pensamento conservador e elitista sempre aplicou aos povos que teme agressivamente.
A verdade é que hoje, mais do que nunca, o conceito do imperialismo como uma etapa do capitalismo e da História da humanidade continua sendo um conceito fundamental. Ao articular a História dos impérios com a História das empresas, o conceito de “imperialismo” pôs a descoberto o poder crescente das empresas monopolistas e do capital financeiro. Também reformulou a luta antiimperialista combinando a luta das nações oprimidas com a luta das classes exploradas.
Se hoje estamos assistindo à construção de um império mundial pelo complexo militar-empresarial dos Estados Unidos (e a palavra império lhes parece grata desde a rainha Vitória), tal projeto de Império corresponde às mais avançadas políticas imperialistas e capitalistas: combina a força crescente das megaempresas e das potências, em que se apoiam e de que se servem, com as novas formas de dominação e exploração dos povos e dos trabalhadores. De fato, o projeto mencionado articula cada vez mais o imperialismo ao capitalismo, até tornar cada um deles incompreensível sem o outro.
Ainda mais, permite explorar as contradições na construção do império mundial norte-americano em pugna inevitável com outros impérios dada sua crescente apropriação e dominação de territórios, recursos e populações, bem como o fato de que apareça como o beneficiário principal da nova acumulação original e ampliada de capitais, formulando problemas de insegurança às grandes potências e às potências intermediárias.
A luta contra o imperialismo e o capitalismo, encarada como uma luta pela democracia, pela libertação e pelo socialismo, corresponde, por sua parte, a um fenômeno alternativo de sistemas emergentes, e, tanto por suas tendências naturais como pelas que serão encaminhadas para atingir tais objetivos, pode ter um crescimento exponencial que inclua a própria população dos Estados Unidos, sem mencionar a do resto do mundo.
Nesse futuro o exemplo de Cuba, longe de ser “excepcional”, tem características universais que se tornarão cada vez mais evidentes conforme se descubra nela a necessidade ético-política que todo movimento pela libertação, pela democracia e pelo socialismo deve priorizar na organização de seu pensamento e de suas ações.
Pesquisa, copy e edição – Flavio Deckes