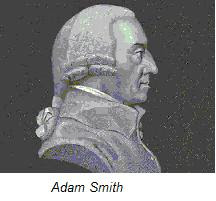O que é, como foi revelado e quais os desdobramentos do
acordo internacional secreto
que pode bloquear as trocas pela internet,
proibir os medicamentos genéricos e
ampliar as desigualdades entre países ricos e pobres.
Há alternativas?
A 25 de março, o governo de Barack Obama tornou público o esboço de um acordo internacional espantoso.
Denominado ACTA – as iniciais em inglês de Acordo Comercial Anti-Falsificação [1] –, o documento tem objetivo muito mais vasto.
Incide sobre a circulação de bens simbólicos – a atividade que mais mobiliza a criatividade humana no presente, e também a que mais desperta expectativas de lucros.
Mas o faz no sentido do controle. Ao invés de incentivar e qualificar a expansão das trocas livres, restringe e mercantiliza o intercâmbio de cultura, conhecimento, marcas e fórmulas necessárias ao combate das doenças.
Recorre, para tanto, a métodos totalitários e policialescos, que ferem em múltiplos pontos a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Permite violar correspondência sem ordem judicial e intervir na comunicação pessoal. Encarrega os provedores de acesso à internet e os serviços de hospedagem de sites de vigiar e punir os internautas.
Criminaliza, em especial, a troca não-comercial de arquivos via internet, o que ameaçaria milhões de pessoas com penas de prisão [2]. Atinge o software livre – ainda que os programadores que o constroem não reivindiquem direito a propriedade.
Como frisa James Love, no Knowledge Ecology International, um dos site envolvidos na mobilização internacional sobre o tema, o ACTA enquadra, sob o conceito de “escala comercial”, não apenas o que tem “motivação direta ou indireta de ganho financeiro”, mas “qualquer sistema de grande amplitude”.
Em outras palavras, as grandes corporações que comercializam produtos culturais querem colocar fora da lei aqueles que os oferecem gratuitamente....
É uma ameaça, a longo prazo, até mesmo a serviços como o Google [3].
Estabelece penas que ultrapassam a pessoa do suposto infrator, violando um princípio jurídico que vem do direito romano [4].
Bloqueia a circulação internacional de medicamentos genéricos, que considera frutos de violação à propriedade intelectual das indústrias farmecêuticas. [5].
Submete os serviços públicos de alfândega a interesses e determinações de empresas privadas. [6].
Procura frear a emergência dos países do Sul do planeta e a possibilidade de uma divisão mais justa da riqueza — congelando a divisão internacional do trabalho hoje existente.
* * *
Debatido sigilosamente há três anos, o rascunho do acordo só veio à luz depois de uma série de pressões de grupos da sociedade civil e de alguns parlamentares.
Mas a falta de transparência nunca foi completa. Sucessivas baterias de reuniões internacionais foram desenhando o ACTA. A elas tiveram acesso os governos de um pequeno grupo de países: Estados Unidos, Japão, Suíça e União Européia, desde 2007; Austrália, Canadá, Coréia do Sul, Emirados Árabes, Jordânia, México, Marrocos, Nova Zelândia e Singapura, numa segunda etapa.
E embora excluíssem os Parlamentos, os representantes do Poder Judiciário e a sociedade civil, os governantes sempre tiveram a companhia dos grandes lobbies empresariais [7] — o que bastaria para atestar o caráter não-republicano e ilegítimo da proposta.
* * *
O ACTA é o lance mais recente de uma grande disputa civilizatória, que emergiu na virada do século e marcará, agora está claro, as próximas décadas.
Por um lado, a economia do imaterial e a internet abrem, entre os seres humanos, possibilidades inéditas de liberdade, autonomia, des-hierarquização, invenção e criação colaborativas de riquezas.
Na direção oposta, setores do capital procuram capturar esta riqueza comum. Para tanto, investem inclusive contra as liberdades conquistadas já na época da Revolução Francesa.
Mecanismos para restringir a soberania dos Estados e sociedades, impedindo-as em especial de “interferir” sobre a “autonomia” das grandes empresas, foram propostos pelo Acordo Multilateral de Investimentos (AMI).
Articulado até 1998, na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômica (OCDE), ele exigia pagamento de indenizações aos “investidores”, sempre que os Estados adotassem medidas que pudessem resultar em redução de lucros – uma legislação trabalhista ou ambiental mais protetoras, por exemplo.
Foi também negociado em sigilo, mas ao final vencido por uma articulação da sociedade civil. Ela se espraiou por diversos países – o que era, então, incomum – e ganhou força ao denunciar o caráter oculto, e portanto antidemocrático, da iniciativa da OCDE.
Eram tempos de forte supremacia das idéias neoliberais. Por isso, a derrota do AMI pareceu mero acidente de percurso. Mecanismos muito semelhantes foram incluídos, pela Organização Mundial do Comércio (OMC), na convocação de uma rodada de negociações internacionais para liberalizar as trocas internacionais – a chamada Rodada do Milênio.
Ela previa, além disso, enorme pressão para que os Estados desarticulassem suas redes de serviços públicos (Educação, Saúde, Água, Saneamento, Transportes e tantos outros, em muitos casos gratuitos) e os transformassem em mercadorias.
Naufragou em Seattle, em dezembro de 1999, diante de uma mobilização internacional maciça, de características até então desconhecidas e diretamente precursora dos Fóruns Sociais Mundiais.
Dez anos depois, o ACTA é a nova investida.
Chega num cenário internacional muito distinto: as idéias neoliberais perderam terreno; a colaboração via internet faz parte do quotidiano (em especial, entre as gerações mais jovens); países como China, Brasil e Índia ganharam força e iniciativa nos debates e fóruns de decisão mundiais.
Para fazer frente à essa realidade, o novo acordo precisa expor ainda mais seu caráter autoritário. E já não é possível negociá-lo abertamente em nenhuma instituição internacional – nem mesmo a OMC.
Por isso, o ACTA tem sido debatido em reuniões semi-informais, entre governos e grupos empresariais.
O próximo debate será na Nova Zelândia, entre 12 e 16 de abril.
A própria aparição do texto-base só tornou-se inevitável depois que o Le Monde Diplomatique francês teve acesso a vazamentos e publicou, em sua edição de março último, um artigo, disponível no site Outras Palavras.
Ainda assim, subestimar o acordo seria um erro grosseiro. Embora seu prestígio tenha recuado nitidamente, as idéias neoliberais ainda influenciam governos e parte da opinião pública – inclusive porque, em oposição a elas, há valores e certas políticas – mas ainda não um projeto de sociedade alternativo.
Por isso, leis nacionais com sentido muito semelhante ao do ACTA foram aprovados há poucos meses na França (lei Hadopi [8] e nos Estados Unidos (DMCA [9]).
No Brasil, a Lei Azeredo, de idêntico sentido, chegou a ser votada no Senado, sendo revertida graças a intensa mobilização da sociedade, que convenceu o presidente da República.
Há poucos dias, o próprio presidente dos EUA, para cuja eleição a liberdade na internet foi fundamental, deu declaração enfática em favor do acordo. “Vamos proteger de maneira agressiva nossa propriedade intelectual (…) [Ela] é essencial para nossa prosperidade, e será cada vez mais, ao longo do século. (…) Eis porque os Estados Unidos utilizarão todo o arsenal de instrumentos disponíveis (…) e avançarão para novos acordos, em nome dos quais se articula a proposta do ACTA [10]”.
* * *
Uma possível estratégia para enfrentar o acordo deveria envolver diversas ações paralelas.
A primeira é a denúncia da ameaça. Por se tratar de um acordo internacional, ela deve ser igualmente planetária. Em diversas partes do mundo começam a surgir articulações da sociedade civil em torno do tema.
Entre elas, destacam-se no momento La Quadrature du net (“A quadratura da net” - www.laquadrature.net), na França; Knowledge Ecology International (Ecologia do Conhecimento Internacional -www.keionline.org), nos Estados Unidos; e PublicACTA (http://publicacta.org.nz), na Nova Zelândia, que inclusive prepara um encontro internacional da sociedade civil, paralelo à próxima reunião internacional de articulação do ACTA, em Wellington.
A forte presença de um movimento de resistência nos países ricos deixa claro que a luta em favor da liberdade de conhecimento precisa envolver também as sociedades civis e organizações políticas do Norte.
Construído num fórum informal, o acordo não poderá ter aplicação imediata – nem mesmo quando os países participantes chegarem a um acordo, numa de suas próximas reuniões.
O caminho traçado por seus promotores, nas condições atuais, passa provavelmente pela aprovação de leis derivadas do acordo em parlamentos nacionais dos países do Norte. Lá, como deixa claro o discurso de Obama, os interesses econômicos dos que se julgam titulares de propriedade intelectual são mais fortes.
O passo seguinte seria transpor os mesmos dispositivos para o Sul. O caminho mais fácil para tanto são os acordos de comércio bilateral.
Por meio deles, os países ricos podem, por exemplo, abrir seu mercado a certos produtos agrícolas, reivindicando em contrapartida grandes concessões na área de propriedade intelectual.
Para prevenir esta armadilha há, além do debate de idéias, um recurso institucional: é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). Parte do sistema ONU, ela foi bastante criticada, no passado, por reproduzir algumas das distorções comuns às organizações multilaterais [11].
Porém, debate, há alguns anos – e aqui está outro desdobramento da nova conjuntura internacional – uma "Agenda do Desenvolvimento".
Proposta inicialmente por Brasil e Argentina, com forte apoio da Índia, inclui certas medidas com sentido oposto ao da ACTA. Rejeita explicitamente a penalização das trocas de arquivos por internet. Quer limitar e abrir exceções ao "direito" de patente [12].
No entanto, a resistência parece ser apenas parte da resposta. Numa época em que dois futuros opostos parecem possíveis – a regressão a formas de controle totalitário e as lógicas de colaboração pós-capitalistas —, é preciso desenvolver a segunda alternativa.
O que seriam os novos direitos civis e sociais, na época da internet? Como estender a todos os seres humanos o acesso permanente e rápido à rede — hoje privilégio de uma minoria?
Mais: como fazer deste direito não apenas a possibilidade de receber o conteúdo criado por outros; mas, também, o de participar ativamente da produção coletiva de cultura e conhecimento?
E, além da internet: num tempo em que o saber converteu-se na principal fonte de riquezas, e é por natureza construção coletiva, como promover a distribuição das riquezas geradas por ele?
Se uma mobilização internacional já se esboça, em resposta ao ACTA, talvez ela possa se propor, também, a responder de modo colaborativo a estas questões.
Notas
[1] Anti-Counterfeiting Trade Agreement
[2] Em 10 de março de 2010, James Murdoch, herdeiro do grupo de mídia que leva seu sobrenome recomendou, numa entrevista coletiva em Abu Dhabi, deixar de ser “amistoso” com os consumidores e punir os “ladrões” de filmes como se punem os ladrões comuns
[3] Um dos esboços do ACTA exige que as legislações dos países signatários punam também “a incitação, assistência ou cumplicidade” ao que chama de “falsificação”, ou “pelo menos, os casos de assistência à ’falsificação’ [aspas nossas] voluntária de marca e de direito autoral, ou direitos conexos, e de pirataria em escala comercial”. O texto parece escrito sob medida para atingir buscadores alternativos, como o Pirate Bay. Mas permite enquadrar também o Google
[4] Inspirado na lei francesa Hadopi, o ACTA quer excluir da internet os usuários acusados de trocar produtos culturais "não-autorizados". Para fazê-lo, pretende congelar os endereços IP dos "transgressores". Finge ignorar que um mesmo IP atende a diversos moradores de um mesmo domicílio (adultos ou crianças), sendo frequentemente compartilhado por seus vizinhos e pessoas em trânsito pela área.
[5] Nos últimos anos, medicamentos genéricos, transportados por navios procedentes da Índia e com destino a países africanos, foram bloqueados mais de uma vez em portos europeus. Os produtos retidos eram perfeitamente legais, tanto no país de partida quanto no de chegada, mas autoridades européias consideraram que o trânsito por seus países feria o princípio de propriedade intelectual
[6] Uma das versões do ACTA que veio a público revela: empresas privadas poderão solicitar diretamente às autoridades aduaneiras (sem necessidade de procedimento judicial) a fiscalização e eventual retenção de produtos supostamente falsificados. Fiscais alfandegários terão também atribuição de verificar, reter e em alguns casos destruir produtos “falsificados” e também arquivos eletrônicos (músicas ou filmes “não-licenciados”, por exemplo) armazenados em computadores, pendrives e telefones celulares
[7] Cartéis como a Aliança Internacional pela Propriedade Intelectual (IIPA, em inglês), a Motion Picture Association of America (MPAA, que representa a indústria norte-americana do cinema), a Business Software Alliance (BSA, de programas de cinema), a Business Software Alliance (BSA, de programas de computador não-abertos) e a Recording Industry Association of America (RIAA, para a música) são desde o início construtores privilegiados do ACTA
[8] Parcialmente bloqueada pela corte constitucional francesa, por incompatibilidade com as liberdades individuais, a lei entrou em vigor em novembro de 2009.
[9] Digital Millenium Copyright Act, descrito e analisado em detalhes na Wikipedia, em português, (verbete mais completo)
[10] A fala de Obama, na íntegra, pode ser lida aqui
[11] Informações maiores sobre a OMPI, incluindo críticas a ela, podem ser encontradas na Wikipedia
[12] No Brasil, o Observatório OMPI, do site Cultura Livre faz um ótimo acompanhamento da Agenda do Desenvolvimento. (29/03/2010)
Pesquisa, copy e edição – Flavio Deckes, com biblioteca diplô